 Ilustra: Paulo von Poser
Ilustra: Paulo von Poser A massa sublevada (energia titânica, disforme, em fúria produzindo moldes de bidês, troncos, geladeiras) das águas do rio Maracanã arrasta o mundo em júbilo de fingir-se oceano; dilúvio de lama, praga de tifo, Veneza de ratos. Guanabara, 1966, calamidade pública armada em segundos. Na cama do rio, jangada macabra, flutua um cadáver. Assistem à cena, de um sobrado alvo da enchente, um velho e uma menina. Ele consciente que natureza-homem-tragédia é triângulo plausível, ela inocente.
Apaixonada, eu torcia para que as águas invadissem nossa casa, naufragando o cotidiano, borrando normas, encharcando os costumes, enxurrando proibições, maculando a cal da ordem com o barro do caos.
Vovô Júlio traduziu da minha expressão o desejo, traindo um oásis no seu deserto, falou que também havia sido criança, décadas antes de estarmos ali. Numa aldeia húngara, ele e outros garotos, desobedecendo às mães, ganharam as ruas, deram piruetas, disseram palavrões, fizeram fogueiras, saltaram de excitação: “Festejamos com galhardia – indiferentes ao terror dos adultos – a chegada na aldeia de homens armados”.
O que eles não sabiam é que se tratava de um progom. Naquela noite a aldeia virou tocha, casas arderam, cães ladraram, muitos morreram, os olhos de menino viram a história soluçar.
Algum tempo depois meu avô e sua família viajariam vagas atlânticas. No porão de um cargueiro chamado Êxodo, conviveram com o calor, a náusea e o medo. Até que numa quinta-feira santa aportaram no Rio de Janeiro, alugaram uma água furtada numa pensão no bairro de São Cristóvão. O jovenzinho húngaro nos trópicos, sem amigos e sem sandálias havaianas.
Em 1966, eu estava com onze anos, meu avô sessenta, de uma certa maneira eu começava, ele concluía. Na rua que morávamos o conheciam por Júlio, o bom judeu. Nas aulas de catecismo do grupo escolar a professora se esforçava em mostrar cristãos como mocinhos, judeus como bandidos.
Ano após ano, no primeiro dia de aula, eu declarava ser neta de um judeu, a essa revelação sempre seguia um zunzum que, longe de intimidar, me encantava. Júlio não era avô consanguíneo. O pai do meu pai, um tenentista, morrera aos trinta e cinco anos de política na ditadura do Getúlio Vargas.
O judeu e a avó se conheceram no Fortaleza Pastéis, ela patroa, ele empregado, ela no caixa, ele no balcão. Num entardecer trocaram olhares, vontades, frenesis, se apaixonaram.
Amor clandestino, a família dele não admitia um transistor alienígena no circuito, longa espera até a morte de Sara a mãe. Então se casaram abrindo em sociedade, ela com o capital, ele com as mãos, uma relojoaria no subsolo da Central do Brasil, a batizaram Rio-Israel.
Em casa havia um relógio para cada cômodo, na cozinha, um a pilha em forma de jacaré. Na sala, o carrilhão dos meus temores. No hall o cuco fazendo cantar seu pássaro de madeira. Ao completar dez anos, meu avô me presenteou solenemente com uma maquininha de pulso, me ensinou a simbologia dos ponteiros, numa iniciação aos compromissos.
Alguns sábados me levava à relojoaria. Aos clientes amigos me apresentava, soltando sua anedota predileta: “Quando ela nasceu o médico alertou: se não latir em dois dias é gente”. Eu bibelô sorria amarelo para o elefante. A nossa volta cronometrando o intervalo do berço à cova: ampulhetas mecânicas.
Os primeiros anos brasileiros foram extremamente duros para o meu avô, demorou na língua, na filosofia, nos gestos, teve várias ocupações, sendo a mais romântica a de motorneiro, dirigia o bonde aberto pelos jardins da Cinelândia. Durante muito tempo, ele sonhou a busca da aldeia perdida, depois compreendeu que as ondas – deusas do movimento – não agitam somente os mares, mas a vida também. Elas jogam com nossos destinos como se fossem sargaços em águas insones, sucessão irremissível.
Chegaram janeiros partiram dezembros, vieram a Segunda Guerra, o casamento, cada vez mais a Hungria foi ficando uma Itabira pregada na parede. Vovô, pouco a pouco, esqueceu a língua mãe, sem nunca ter aprendido de todo a língua anfitriã, falava com frequência “a sal”, “o batata”. Excelente cozinheiro me fez adorar chucrute e detestar por toda a vida frango, porque num almoço, sem que eu quisesse me obrigou a comê-lo.
Recordo-o árido na alma, seco nos gestos, bate-estaca na voz. Para ele sonhar fazia sentido apenas como ação involuntária, detalhe de sono. Se eu cantarolava ele dizia “cantar não é a realidade”. Cedo pressenti que começávamos a nos perder um do outro, a neta do avô, à medida que crescia, ele ia me tratando sem indiferença e sem amor.
Verdade, Júlio tentava as tangentes do humor e da alegria, não lograva. Seu centro estava na amargura. A menina se ressentia da falta de amor do avô, ele da falta de amor da neta. Mas por que se amariam? Tinham diferenças demais agravadas pelo intervalo de idades, semelhanças no pior de suas naturezas – egoístas exemplares, sofriam da síndrome da autossuficiência.
Até que aconteceu! Atraída pela música, na ponta dos pés caminho, delicados matizes semelham cigarras vocais, dourada fugacidade, fim de tarde, cinema sem tela, a meia luz celebra o imaginário. Surpreendo meu avô tocando violino, o homem de pedra fazendo arte, afagando o silêncio com notas, afogando o ruído com harmonia.
Enquanto dura a melodia amo sinceramente o músico; estremeço enternecida, o arco entregando-se às cordas rangentes orquestra o arrepio, instrumento divino, viagem de forma, idílio interrompido por uma nuvem de gafanhotos, que assola o quarto.
Longe das mãos escondido dos olhos, em cima do armário, encostado num revólver calibre 45 do antigo avô militar, o estojo de couro guardando o violino. Do outro lado do oceano, Júlio ainda menino aprendera com a mãe a ler música e tocar o instrumento. Quando bebê, sua canção de ninar era Ludwig van Beethoven.
Sara, a mãe, antes do casamento, dos filhos, da história, havia sido música formada num conservatório em Budapeste. No Brasil, do primeiro ao último dia, ela se fechou em exílio cultural, somente falava o húngaro e com os seus, em vinte anos cariocas não conheceu a “princesinha do mar”, resistia entrincheirada na água-furtada de São Cristóvão. O filho cogitou ingressar na sinfônica municipal, nunca o fez, a realidade o emudeceu.
Meu avô ensinou-me o xadrez, o jogo nos aproximava. No começo, senhor absoluto do tabuleiro, massacrava meu exército com cavalos saltitantes e torres velozes. Partida a partida, lance a lance, fui melhorando até a inesquecível noite, que com dama e bispo, lhe dei xeque-mate, ele protestou, justificando a derrota com a distração, me ofendi, chamei-o “velho mentiroso”.
Nunca mais jogamos. Sem o jogo nossa distância aumentou, o fosso aprofundou, mal trocávamos palavras, gestos, sinais, dois muros separando uma Berlim doméstica. Um dia me olhou profundo, dizendo que éramos estranhos, indaguei a razão, respondeu: Somos de raças diferentes.
A soda cáustica do tempo corrói a engrenagem dos relógios, disparando célere seus ponteiros, à medida que cresço farejo o mundo impaciente por cobri-lo com pegadas. Crepúsculos auroras presenciam a menina se afastando do nascimento, Júlio se aproximando da grande noite.Passamos a saborear a incomunicabilidade, deglutindo indiferença, engolindo goles de mágoa.
Estivemos juntos pela última vez, em 1971, por ocasião de uma dor comum, momento extremo, partido soluçar, enterro da minha avó Affonsina. O gigante soltando lágrimas de menino, caminhamos alamedas fúnebres, pisando goiabas vivas, cornetas de mármore anunciando a paz real.
Ao meu avô pergunto o que fará dessa hora em diante, quais os planos de viúvo. Bruscamente meigo Júlio confidencia à neta de quinze anos “da vida apenas espero o fim”. Repondo que, quanto a mim, espero a terra onde corra o leite e o mel, os dez mandamentos da alegria. O cemitério do Caju meia-parede com o cemitério israelita, a cruz de Cristo e a estrela de David segregadas sob um único céu.
Leia também Meu avô judeu

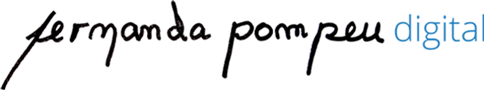
Lindo!
Obrigada, querida.
[…] Leia também O Judeu […]
Fê querida,
Lindo, lindo, lindo! E, triste!
Beijos
Obrigada mais uma vez, querida Bel.