 Óleo: Jeremias
Óleo: Jeremias Desde que eu, Cá Camila, me fiz ao mar assaltou-me a nostalgia da terra. No jogar das vagas, nas figuras abstratas desenhadas pelas espumas na tela azul, no lamento do marulho e, principalmente, na intempestividade do temperamento oceânico – toma-me uma melancolia que deseja o fixo, o sólido.
O mar legou-me na mesma carta: a alforria e a saudade da terra. Cada vez mais, sons do galpão de artesanias falam à memória e o coração escuta.
Faz dois meses deixei a baía de Guanabara timoneando a sobranceira nau – com todo o velame içado – lançada aos ecos atlânticos, às veredas de sal. Esse cruzeiro projetei-o, no diário da mente, bem mais fácil do que no real está sendo.
O plano era navegar de rumo e estima, de porto em porto, mas a nau se afastou da costa e defletiu para longe da orla. Meu olhar se dirigiu ora a barlavento ora a sotavento. Espreitei a bombordo, perscrutei a estibordo o insondável mar e nada de ancoradouros. Nada de Veridiana.
Sessenta dias de solidão onde transformei a extensão da embarcação no único mundo possível: passeei no convés, matei ratos no porão, lavei o passadiço. Habitei o tombadilho, levantei e arriei velas. Inspecionei os cestos de gávea e sonhei – no topo do mastro – com continentes à vista.
A única testemunha dos sucessos que vivo, leal companheira da desgarrada nau, é a albatroz. Com as asas completamente abertas, dando a impressão que não as move, voa rente às ondas. Chamam-na ‘rainha do azul’ e dizem que nunca dorme.
Do castelo de proa avisto: a infinitude oceânica que compara a agilidade do olhar humano ao passo da tartaruga subindo uma montanha do Tibet. Dia após noite, observo o comportamento da imagem do horizonte ora perfeita, ora ondulada, ora desaparecida – obedecendo aos humores do céu e do mar. E também, o nascer do sol surgindo das profundezas abissais a derramar vigília sobre os sonhos.
Do castelo de popa posso ver: a infinitude oceânica que iguala a pretensão humana ao grão de areia na praia. Observo os peixes voadores bailando o júbilo da liberdade, a dança dos alísios, as focas-ciganas. E também, o pôr-do-sol – beleza mestra entre todas – quando a luz vai repousar, entregando barcos, corsários, arrecifes, dias às trevas de si mesmos.
Presencio o espetáculo da ardentia – fosforescência marítima visível em noites sem luar. As ondas em explosões esverdeadas, as franjas das águas encapuzadas de alma. Intuo que se todas as coisas têm alma, a ardentia é a manifestação do espírito do mar.
Navegar, sem dominar o sextante, a bússola, o barômetro, o alfabeto dos astros, é estar a perigo. É fazer a corte ao risco. É perder-se nos arabescos do caminho, é beijar no rosto o senhor dos acasos. Desconheço cálculos de latitude e longitude, no entanto sei de garrafas que lograram atravessar o Atlântico.
Agora aconteceu o pior: a provisão de boca terminou. Nas primeiras semanas consumi a quota de badejo, nas seguintes devorei a carne da corvina e, por fim, o saboroso cação. Sem víveres estou obrigada a conseguir, com suor e anzol, um jeito de não perecer.
Faz dois meses, em ziguezague, a embarcação bordeja ao bel-prazer do vento, que em sua anarquia é o primeiro-piloto desta viagem. A nau e eu estamos à deriva.

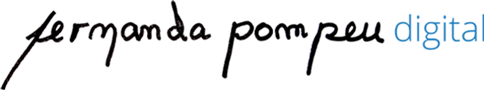
Deixe um comentário