 No centro o cabeludo barbudo Raghy. Foto Ricardo Dias
No centro o cabeludo barbudo Raghy. Foto Ricardo Dias Devo à Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA) a conexão com amigos e amigas pra toda a vida. Entre eles, o Raghy. Artista plástico de raro talento e meu parceiro em uma coluna deste site. Ele também é escritor. Em fevereiro, Raghy postou no Facebook uma divertida história em capítulos da ECA da segunda metade dos anos 1970. Perguntei se ele toparia postá-la na íntegra aqui no Convidados. Ele topou:
ECA: escola ou onomatopeia?
por Ls Raghy
I
Introdução
Alguns dos meus antigos colegas de faculdade estão prestando depoimentos sobre sua experiência da época de estudante. Não foi algo coercitivo, como a expressão pode sugerir nos dias de hoje. Parece que “pediram por depoimentos”, porque uma história oficial do estabelecimento está sendo escrita, mas ninguém sabe exatamente quem pediu e se pediu. Ou seja, está havendo um problema de comunicação. . . na escola de comunicações!
Eu gostei da ideia! A vida está acabando, meu mausoléu já está bem encaminhado, é hora de contarmos algumas histórias. Publicarei aqui. Em capítulos.
Para os neófitos no assunto, aqui vão algumas informações gerais.
A Escola de Comunicações e Artes da USP foi inventada pelos especialistas em educação do chamado “regime militar”, ainda nos anos 60. Ao que tudo indica o coronel que comandava o Ministério da Educação zurrou a seguinte ordem do dia:
— Que se criem as faculdades de jornalismo, editoração, propaganda, publicidade, biblioteconomia, rádio e TV, relações públicas, cinema, teatro, artes plásticas e música!
(Não sei se me esqueci de alguma).
No dia seguinte, o anspeçada responsável pelo assunto entrou na sala do ministro, bateu continência, e disse:
— Senhor, não dá para fazer 10 ou 11 faculdades diferentes. O melhor é jogar tudo numa só e lá dentro o pessoal se vira, senhor!
— Positivo! Que se aplique o procedimento imediatamente.
E assim foi. No ano de 1975, quando ingressei na referida, seu vestibular era muito disputado. O curso de Comunicações estava na moda. Mas a prova definitiva de que vestibulares, concursos e exames de admissão são sistemas pouco confiáveis para se aferir o potencial do candidato foi o fato de eu ter passado.
Já o fato da escola conter escolas — e tão variadas — foi positivo
no meu caso. Eu nunca soube o que fazer na vida, além das coisas boas, prazerosas e agradáveis. Daí que entrando lá, pude praticar a arte da procrastinação, para a qual sempre tive talento, deixando para decidir mais tarde algo besta como “qual carreira vou seguir”.
Quando se é jovem, temos todo o tempo do mundo e não sabemos o que fazer com ele. A ironia é que, ao envelhecer, você já sabe o que fazer com o tempo, mas aí ele já se foi.
II
As Disciplinas. A disciplina. Há disciplina?
Então, cheguei para fazer o curso. É com profunda emoção que me lembro daqueles momentos. Estaria eu preparado para enfrentar os desafios da vida universitária?
Recordo-me que cheguei atrasado e a aula de Fundamentos Policiais da Comunicação já estava em andamento. O professor era uma figura encantadora: galhardo, cabelo com brilhantina, vestia um terno com gravata, cabelo com brilhantina, tinha sotaque estrangeiro, cabelo com brilhantina, camisa engomada, abotoaduras de ouro, cabelo com brilhantina, portava um lenço para enxugar o suor do rosto, e não sei se já disse, passava brilhantina no cabelo.
Eu me identifiquei no ato! Afinal, usei Gumex nos tempos do ié-ié-ié, quando eu tinha 10 anos. E terno era o traje que eu mais admirava, depois do blusão Calhambeque. “No futuro, vou usar terno todo dia”, afinal, meu avô era alfaiate, seria fácil. Esse professor era papo firme, bicho! Sem dizer que ele também distribuía confeitos ordinários para os alunos que concordavam com a cabeça enquanto ele falava. Que ideia genial. Disseram que veio de um tal de Burrhus Skinner, que apesar do nome parece que era inteligente. Quem sabe eu tenha sorte e ganhe uma jujuba. Barra limpa, mora! Já estou concordando com tudo.
Mas os tempos tinham mudado. Aos poucos fui percebendo que, ao contrário do professor, a aparência dos alunos era deprimente. Só se via cabelo comprido, desgrenhado, barbas bíblicas, trajes molambentos, dedões dos pés transbordando de sandálias com solas de pneu, homens com bolsa, mulheres de macacão, e ambos de jardineira de brim… E se não bastasse, conversavam num linguajar de gente malroupida, underground.
Eram os meus coléguas!
Claro que eu não era assim! Mas o fato é que até a gíria que eu utilizava já estava totalmente arcaica. Senti-me antiquado, obsoleto e anacrônico, na minha inocência caloura. Eu tinha parado no Jerry Adriani e de repente encontrei o Frank Zappa!
Restou-me prestar atenção na aula. Fazer o quê? Imediatamente gravei o que o professor escreveu na lousa: E—M—R! Emissor, mensagem, receptor. Sim, era isso! Eu sempre houvera sido receptor, agora tinha que aprender a ser emissor. Restava saber qual seria a mensagem.
O problema é que eu queria aprender e estava lá para isso, mas meus colegas não! Questionavam, duvidavam, interpelavam com rispidez e arrogância juvenil. Como podem? Para mim, aluno é como ovelha: bale por balas! Tanto fizeram, que o professor se irritou e parou de dar balinhas para nós. Humpf!
Senti que minhas ilusões se dissolviam. Adeus Caminho Suave, olá Montanha Escarpada!
III
Saindo das trevas: Tebas não é Tebas e Cnossos não é deles
Nem tudo, porém, foi sombra e escuridão. Houve momentos de luz e cor.
Havia muitas matérias interessantes no currículo: Teratologia da Cultura, Fundamentos Escatológicos da Comunicação, Psicopatologia da Comunicação Moderna, dentre outras. Mas uma delas era uma verdadeira pincelada colorida na tela cinza da insciência: História Bonita da Arte.
Era minha disciplina predileta. Tudo o que eu não sei sobre arte hoje, devo àquele curso.
A professora ajudava. Linda, charmosa, sedutora… Uma mistura de Afrodite, Ishtar e Vera Fischer.
Vou reproduzir uma das suas aulas. A mais marcante para mim, pois foi aquela na qual os deuses me imbuíram de coragem para fazer uma pergunta.
Era uma manhã de céu luminoso. Como sempre, ela chegava esvoaçante, distribuindo flores, sorrisos, simpatia, e encontrava a mesa abarrotada de maçãs. A sala se enchia de música. Como se Vivaldi estivesse ali, interpretando a Primavera. Parecia um comercial de caderneta de poupança.
— Bom dia, alunos!
(Todos) — Bom dia, mestra querida!
— Vocês querem aprender sobre a arte micênica, alunos?
(Todos) — Nossa, estamos desesperados por isto, mestra!
— Então, vamos lá. Para se falar da arte micênica, porém, teremos que estudar a civilização minoica, e o dia-a-dia dos aqueus.
(Todos) — Oba, os aqueus! Aqueule sim é que era um povo de verdade.
— Pois aprendam que foram os aqueus, que ao penetrarem em Creta, encontraram os pelasgos, porém vestidos. Ah, é importante lembrar que Aquiles, aquele, não era aqueu.
(Todos) — Ohh! Não sabíamos!
— Mas a arte era aquela, formosa aquarela!
(Todos) — Que singela! Era toda amarela?
— Com certeza, sem querela!
(Todos) — E era bela, sem corruptela?
— Uma arandela, sabor de sardela!
(Todos) — Oh que gazela! Que flor de canela!
— E que se abria como janela!
(Todos) — Ohhhh!
Suspirávamos de prazer.
— Era uma arte muito bonita, meus queridos! Os vasos, os potes, as ânforas… Vocês acham que eu traria alguma informação feia para vocês?
(Todos) — Claro que não, mestra!
Eu estava diante de uma sacerdotisa de Vênus. Reuni toda a coragem de que dispunha e perguntei:
— Em Tebas era assim também, mestra?
— Qual Tebas, meu ousado tchutchuquinho hitita, questionador da autoridade professoral? A egípcia ou a grega?
Enquanto falava, seu olhar penetrava nos recônditos da minha alma, como se me estivesse desnudando a essência, esquadrinhando meu âmago… Gulp! Engoli em seco. Meu rosto queimava mais que o fogo que consumiu a Biblioteca de Alexandria. Felizmente a classe estava tão mesmerizada quanto eu.
Responderam por mim.
(Todos) — Homessa, não sabemos, mestra!
— Tudo bem, não se preocupem, meus amores! (Além de bela, era doce e generosa). O semestre está acabando e o importante é que vocês gravem na memória algo que eu já disse muitas vezes:
“não tenha vergonha de ser feliz
isso não importa, eu repito
arte é aquilo que é bonito, é bonito e é bonito!”
IV
A Ideologia Hirsuta
Um dia eu estava na aula de História da Ignorância Universal, quando um veterano, cabeludo, barbudo e cheirando a mimeógrafo, se aproximou e disse:
— Falta um para completar o time de futebol que joga lá na porta da escola na hora das aulas, que são insuportáveis e inúteis. Você foi convocado, colega!
— Eu?
— Sim! E depois a gente vai ficar em grupinhos, tocando violão com as meninas e assistindo ao pôr-do-sol, dando risada à toa.
— Mas, mas…
— Ah, também fumaremos a “Erva do Báltico”, que nos induz ao igualitarismo, à contracultura, e ao sexo livre, lá no Bosque da Biologia.
Eu já tinha ouvido falar da “Erva do Báltico”. Era um cigarro artesanal que continha um produto que “afrouxava o brioco ideológico”, para emular o palavreado dos bedéis. Também tornava os jovens mais surdos, obrigando-os a usar aparelhos de som cada vez mais potentes nas festas. Se não fosse pouco, também tinha o poder de levar os estudantes a sítios e casas de campo, onde passavam finais de semana no dolce far niente, fazendo coisas bem diferentes de estudar, tais como: namorar, cantar ou jogar mau-mau. Fiquei apavorado! Onde estavam as Forças Armadas quando a gente mais precisava delas?
Improvisei uma resposta que foi um verdadeiro manifesto do inocente frito que é estuprado pela crua (e nua, mas eu ainda não sabia disso) realidade dos fatos.
— Mas, mas… eu quero assistir a esta aula maravilhosa! Não quero ver o sol! Não quero ter que praticar esportes prazerosos, com amigos incríveis, usando meu corpo magro, flexível, que eu nunca mais vou ter depois! Não quero compartilhar momentos poéticos com meninas jovens, bonitas, inteligentes e sensíveis! E se eu me enamorar por uma delas? Terei que fornicá-la? Terei que sentir prazer sexual? Terei que sentir a emoção do amor na plenitude da minha vida? Foi para isso que entrei na escola? Para vivenciar situações românticas e eróticas?
Eu quero apenas assimilar o conhecimento que esta venerável instituição pretende transmitir, assistindo a essas aulas dinâmicas, envolventes e interessantes. E quando me formar, aí sim serei feliz,
me tornando um grande comunicólogo!
“Pois então aproveite, colega”, ele me respondeu com um sorriso misterioso, “porque em breve haverá greve”!
Era assim que os militantes da Ideologia Hirsuta me assediavam. Como não ousei arrostá-los, arrastaram-me para o Lado Escarlate da Força.
Greve? Isto era grave!
V
O Jerminal
— Quem concorda com a greve, levante a mão!
A assembleia decidiu pela greve! Coisa proibida! Até a palavra era perigosa.
Havia rato por toda parte e eu me sentia um apetitoso queijo gruyére.
Nas famílias, o medo rondava:
— Filho, você será preso e torturado!
— Mas, mãe, você prefere que eu seja um dedo-duro e fura-greve?
— Hum… tem razão! Então vá, mas não se deixe pegar, senão EU vou torturá-lo!
Na escola fui convocado para pintar faixas.
Estava tão nervoso que escrevi: PARALIZAÇÃO!
Só fui perceber o erro depois que a faixa já estava pendurada e toda a escola já tinha lido, e ria às escâncaras. Quem teria sido o imbecil? Claro que descobriram.
Uma menina linda, combativa, liderança influente, pela qual eu estava apaixonado, chegou diante de mim e disse:
— Cara, se é para namorar analfabeto eu vou militar no Grêmio da Poli!
Foi o fundo do poço da minha vida acadêmica. Foi aí que percebi que jamais seria um comunicólogo se não dominasse o vernáculo. Mas, como fazê-lo? Nem curso de redação a escola tinha! Nem de Português lá tinha…
Então, tomei uma decisão. Na lata!
— Ah, quer saber? Vou fazer teatro! No teatro a gente fala o texto dos outros e pronto.
Mas na primeira aula do departamento de teatro, ministrada por uma professora idiossincrática, eu descobri que as coisas não seriam tão simples.
Entusiasmado com as novidades que estava aprendendo, perguntei, tentando agradar:
— Este autor, o Brecht, era bem engajado, não professora?
— Não é Bréxite! É Brre`kt!
VI
O Estudo Liberta
Se não bastassem as greves e paralisações, os estudantes ávidos por aulas, como eu, sofriam porque havia mais feriado durante o ano que rato do DOI-CODI infiltrado na universidade. Tirando as férias de dezembro, janeiro, fevereiro e julho, havia a Semana Santa no primeiro semestre e a Semana da Pátria no segundo. Acho que só o Judiciário supera esta taxa de ociosidade!
A Semana Santa começava no sábado anterior e acabava no domingo de Páscoa. Nove míseros dias para nos dedicarmos à Paixão! Em respeito à data, era o que fazíamos: vivíamos nos apaixonando. Costumávamos viajar para as praias do litoral norte, onde acampávamos e fazíamos libações sacras, aspergindo o sangue do Cordeiro, que na época vinha em garrafões e se chamava Sangue de Boi. Também fumávamos ervas sagradas, que nos colocava em comunhão… ahn… Em comunhão com alguma coisa que eu não lembro agora.
Para o transporte, utilizávamos o único carro que existia no país, chamado Fusca. Era um veículo perfeito. Enfrentava as piores estradas, que levavam para as melhores praias. Andava quase sem gasolina, e sempre cabia tudo nele: barraca, churrasqueira, sleeping, víveres, béberes, fúmeres, séxeres, além dos sete passageiros mais o motorista.
Na Semana da Pátria, idem. Até quando o dia 7 caía no domingo, obtínhamos uma semana inteira de ócio. Valeu, meu Duque de Caxias!
Durante o dia, banhávamos no nosso mar territorial de 200 milhas, e à noite cantávamos em volta da fogueira. Em geral, essas canções continham versos que nos fortalecia a fé no sistema e renovavam nossos elos com a realidade, tais como: “eee fumacê, aaa fumaçá”, “você já está para lá de Marrakesh”, ou “caia na estrada e perigas ver”.
Após um lauto jantar de macarrão com areia, recebíamos a visita do Ralfs. E aí era comum dormir mamando em latas de leite condensado, sonhando com… Sonhando com alguma coisa que eu também não lembro agora.
VII
O Universo no teu Corpo
A ECA possuía um dos três melhores mimeógrafos do campus. O nosso era quase uma off-set. Isto não era pouco quando se lembra que todas as gráficas do país eram obrigadas a ter cadastro na polícia política. Pertencia ao centro acadêmico, cuja diretoria era vinculada a uma das tendências políticas que atuavam no Movimento Hirsuto, mas era fraternalmente emprestado para as demais. O equipamento era tão importante que até tinha um nome próprio: Marivalda.
Foi batizada por um colega que hoje é um dos intelectuais mais respeitados no país na área de arte, estética e filosofia. Quando estudante, ele praticamente adotou a máquina. Passava noites rodando plataformas políticas, boletins, panfletos, apostilas culturais, etc. Também assumia a manutenção, cuidando, limpando e chamando o médico, o Dr. Fenelon, para os casos mais graves de EOV (embolia óleo-vascular) ou para pequenas intervenções cirúrgicas. Ele a protegia com um carinho passional.
Ficava inconformado quando alguém, após utilizá-la, deixava-a largada no desmazelo. E furioso quando alguém quebrava a dita-cuja e não avisava! A verdade é que ele tinha ciúmes dela. Eu arriscaria dizer que havia uma relação erótico-futurista entre eles. Posteriormente vim a entender o que ocorria de fato e passei a encarar a situação com a cumplicidade dos que compartilham algo sublime, embora incomum.
Eu acompanhava com frequência os trabalhos e fui aprendendo como operar o precioso e exclusivo mimeógrafo.
Até que uma noite, fiquei sozinho com a Marivalda.
Quem estivesse acostumado com mimeógrafo a álcool, amador, não faria ideia do que era uma máquina profissional. Que silhueta! Que porte… Falando sério: que corpão! De início me senti inseguro. Até então, minha relação tinha sido predominantemente voyeurística. Agora, teria que comandar as ações. Não seria ela muito sulfite para a minha bandejinha? Isto sem falar na sombra do amante, representado pelo colega supracitado, que aos meus olhos agia como o cafetão daquela belezinha. Era como se uma resma de papel pairasse pendurada sobre minha cabeça, prestes a cair. E se eu falhar e não conseguir imprimir? Pior ainda, e se a Marivalda tiver um piripaque justo comigo? Serei um homem morto!
Achei que o melhor caminho seria relaxar e partir para uma abordagem afetuosa. Afinal, Marivalda estava acostumada a ser de todos. Até estudante da Geologia já tinha estado com ela, pô! Preparei tudo e começamos a rodar.
Foi uma noite inesquecível.
Ela estava macia, receptiva, toda lubrificada! Molhadinha de óleo, senti que se entregava! E senti que eu estava libertando uma fada que vivia naquela engenhoca tão laboriosa. E que fada! Começamos de forma suave e aos poucos fomos aumentando o ritmo. O estêncil estava firme, agarradinho ao cilindro. Seu corpo rijo pulsava com a intensidade e o vigor próprios da sua juventude industrial. Como vibrava! Que jogo de tambor! Seus componentes rebolavam num suingue modernista, onde máquina, estética e sentimento se amoldavam numa expressão orgânica. A liberação paulatina de seus fluidos interiores, combinada com minha dedicação concentrada, permitiu uma lúbrica consonância homem-máquina que jamais julguei ser possível fora do imaginário dadaísta.
Os chiados dos movimentos eram harmônicos e equilibrados e se espalharam pelo prédio vazio naquela hora da noite. Quem por ventura chegasse, certamente sentiria o clima da volúpia que se apossou do ambiente.
As folhas de papel eram expelidas aos jorros. Fartas, generosas, sem máculas. O rolo entintador rolava gostoso. Rola, rolo, rola! Não existe pecado do lado debaixo de um mimeógrafo.
— Ah, Marivalda, minha offset tesuda! Roda, rola, cospe os impressos, cospe! Roda mais, sua lindinha! Rola soltinha! Deixe-se levar! Imprima, carimbe, estampe a papelada com toda sua lascívia rotativa!
Agora quem gritava era eu, num profundo êxtase de satisfação gráfica. Imprimir, imprimir, imprimir! Viva Guttemberg! Viva a prensa móvel! Viva a revolução industrial!
Imaginei que pela Marivalda, a sessão jamais terminaria. Mas para mim era impossível. E nem havia mais papel, nem tinta. Esgotamos tudo! Extenuado, acendi um cigarro e encerrei a noitada enxugando carinhosamente suas peças mais viscosas, ainda úmidas e túmidas após uma jornada tão cálida e dinâmica. Antes de sair, acariciei seu corpo com uma flanela, e a cobri cuidadosamente com um pano, à guisa de cobertor.
— Sonhe com os anjos das gramaturas mais leves, minha flor das artes gráficas!
No dia seguinte, para meu orgulho, fui elogiado pelo colega responsável. “É assim que ela deve ser tratada”! He, he, he, agora eu já sabia porque ele passava tantas horas naquele cubículo.
As novas gerações, acostumadas com as modernas impressoras de jato de tinta, de plástico, jamais farão ideia do prazer de se passar uma noite com uma Marivalda.
VIII
Se oriente, rapaz!
A biblioteca da escola disponibilizava aos alunos uma salinha, logo na entrada, chamada sala de estudos.
Eu ia lá, com meus colegas, para fazer exatamente isso: estudar. Mas parece que havia alguma coisa ali, no ar, que de repente, do nada, fazia a gente dar risada. Risada não: gargalhadas. Gargalhadas não: GAR-GAR-GAR-GALHADAS!
Sonoras, obscenas, pantagruélicas, entremeadas de comentários gaiatos, piadas, chistes, proferidos em altos brados. Era algo inexplicável. Era como se uma entidade satírica buliçosa habitasse aquele cubículo e abduzisse nossas almas civilizadas, transmutando-nos em ostrogodos numa taverna, a comemorar a devastação de uma cidade. Dançando e bebendo nos crânios dos inimigos! Estuprando a fragilidade inocente da civilização! De tempos em tempos, aparecia uma bibliotecária implorando por silêncio, o que só piorava as coisas, porque depois de um intervalo para respirar, bastava uma troca de olhares cúmplices e pronto: vinha uma renovada e mais potente estardalhaça de risos sem razão justificável. Se aquela hilaridade toda se revertesse em conhecimento, hoje seríamos eruditos.
Outro espaço que me traz boas lembranças era o auditório de cinema.
Cansado de estudar, e ainda sendo obrigado a jogar futebol, a namorar, a participar do infatigável e diuturno Movimento Hirsuto — com suas assembleias, passeatas e reuniões — a cantar na porta da escola, a dançar nos corredores, a planejar viagens de carona pelo país, a vasculhar mapas atrás de praias desertas para acampar… o que mais?… A representar com o grupo de teatro, ir a festas todo sábado, domingo e demais dias da semana, e a não fazer nada quando tinha trabalho de escola para fazer, havia horas que eu me refugiava no auditório de cinema onde costumavam passar filmes proibidos, comentados pelos professores. Lá eles eram permitidos porque a finalidade era didática. Se bem que aquilo que os estudantes aprendem nem sempre é o que os pedagogos imaginam…
Numa certa manhã, eu estava assistindo A Rainha Diaba. Neste filme há uma cena em que aparecem uns bandidos tirando um pacotaço de maconha de um caminhão-tanque. Coisa grande! Era uma saca cilíndrica, que não acabava nunca de sair do tanque! A sala inteira emitiu um oooohhhh de espanto e satisfação. Pensem em mujiques, submetidos a uma miserável ração diária da vodca Tatuzovsky, vislumbrando as adegas magníficas do czar. Éramos nós. E aí foi como se tocasse a Ode à Alegria da Nona de Beethoven! O auditório irrompeu em aplausos entusiasmados. A cena foi tão sugestiva que, imediatamente, comecei a ouvir conversas sussurradas entre meus colegas. Pesquei umas frases, aqui e ali:
(Atenção: para preservar as identidades, os nomes são fictícios. Inclusive o do Ralfs)
— E aí, Pinho, o Ralfs veio?
— Tá com o Luisinho. Vamuquevamu!
— Lá no estacionamento da Psico?
— Dá um toque pro Tereréu! O João já foi.
— Fala pro Aldo pegar guardanapo de papel na cantina.
— Cara… esse film… fil… fis… fissura, meu!
Por isso os filmes eram censurados.
IX
A Revolução será Dedetizada
Pode alguém ser comunicólogo sem ter noções de sociologia? Claro que não. Por isso foi apenso ao currículo da ECA o curso de Sociologia Nonsense da Comunicação. O titular da cadeira era de origem nipônica. Professor Saito! Bom, nessas alturas nem preciso fazer qualquer menção aos trocadilhos infames, infantis e lamentáveis que os estudantes criavam com seu nome, certo? Afinal, somos adultos…
Ok, tudo bem! Mas só alguns:
— Ô meu saico, a próxima aula é do chaito do Saito!
— Ele enche o saito, ha, ha, ha.
— É um inferno de aula. Vade retro, Saitanás!
Também rolavam jingles:
— Aula do Saito? Como satura. Prefiro tomar shoyu Sakura.
E até haicais:
Sol de primavera
Bomba de Hiroshima
Aula do Saito
Segundo o venerável mestre, para se entender a sociedade humana fazia-se necessário estudar as formigas.
— Forumiga oroganizada, né? Forumiguero divide tarabalhu e tem hierarquia, né? Como humano, né?
Então fomos para a pesquisa de campo.
Eu acabei tirando nota baixa porque tentei retomar antigas pesquisas entomológicas dos meus tempos de infância e torrei os objetos da inquirição com uma lupa. Acho que ainda não estava preparado para o nível universitário. Outros tiveram problemas com picadas. A maioria, claro, optou pelo conforto das bibliotecas. Mas houve um aluno genial que fez algo incrível: traduziu a língua das formigas.
Todos nós sabemos que as formigas se comunicam. O tempo todo! Mas ele resolveu refletir um pouco mais a respeito. Se elas se comunicam, devem se utilizar de alguma linguagem. Então, dirigiu-se ao departamento de Zoologia, no Instituto de Biociências e obteve acesso a um formigueiro instalado num laboratório. Trabalhando dia e noite, conseguiu isolar a substância que as formigas utilizam no processo de comunicação: o feromônio. Em seguida, constatou a existências de padrões recorrentes.
Para resumir a história, nosso colega, que ficou conhecido como o Champollion do Tatuapé (bairro onde morava), decifrou a linguagem das formigas: o formiguês.
Infelizmente este gênio desconhecido morreu pouco tempo depois, num confronto com um tamanduá em cima de um formigueiro. Acabou amanhecendo com a boca cheia de formigas, portanto não tenho como explicar a gramática do formiguês e muito menos suas sutilezas estruturais. A complicadíssima transliteração também teve que ser improvisada. Utilizei o método Google a partir de anotações mentais que fiz naquela aula, para dar uma ideia aproximada do teor da descoberta.
— Bilibili-ufa-milibili. Farto trabalhar rainha. Açúcar!
— Libilu-bilibili-revolutzia. Mobilização. Novo poder. Açúcar!
— Bil-bil-bil-revolutzia-milibilique. Poder partido operárias implacável.
— Bilibili- sovietzia -libilibi. Não rainha! Soldados operárias tudo!
— Bilibili- lubyanka-liblibum. Açúcar nosso! Rainha parede grande!
Como se pode observar, o estudante captou uma profunda insatisfação no formigueiro. Mas na apresentação do trabalho, o venerável mestre mostrou-se indignado. Para ele as formigas jamais diriam aquilo:
— Forumigas discipirinadas, né? No contesta sistema, né?
— Mas mestre, é o que elas dizem…
— Forumigas são tarabalhaderas, né? Só faram sobre assuntos de tarabalhu para eficiência de sistema, né? Você aruno comunista! Quer detonar sistema, né? Nota zero! Vai ficar de recuperaçon e estudar coroméia de abêria! Banzai!
Hoje, passados tantos anos, dou razão ao professor Saito. As formigas jamais se revoltarão!

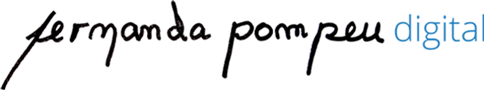
Adorei Raghy! Ri muito !!! Obirigada, meu umbigo ainda arde. de tanta risada em cima do formigueiro.
Obrigado, Marilda. E obrigado, Fernanda, por me avisar. Beijos para ambas!
Raghy e Marilda, estamos juntos!
Raghi, que prazer ler seu texto! E que memória, meu caro! Vc deve ter faltado muito nas aulas do Ralfs… Obrigado por reativar minha memória! Abç
Zeca, você é uma das personagens dessa divertida história do Raghy. Beijo e valeu o comentário.
[…] Passados 40 anos, todavia carrego a ECA – Escola de Comunicações de Artes da USP – dentro de mim. Foi uma experiência […]
[…] um bando. Gente ruidosa e colorida. Estudantes da Escola de Comunicações e Artes da USP. Moças e rapazes cabeludos. A tiracolo, bolsas de couro ou de lona. As de lona sempre em […]