 Foto Fernanda Pompeu
Foto Fernanda Pompeu Depois de observar a ultrassonografia, o médico do pronto-socorro disse:
Há uma alteração na sua bexiga.
Alteração?
Um pólipo.
Ih?
Vamos ter que retirá-lo e verificar.
Verificar o quê?
O grau de malignidade.
Deixei o PS do Hospital Samaritano em choque. No caminho até a casa, os postes, as placas de sinalização, os bueiros, as lombadas eletrônicas, todos os pássaros ressoavam:
Malignidade, malignidade.
No último semáforo em frente ao Estádio do Pacaembu, com o vidro do carro fechado, li os lábios do pedinte soletrar a palavra:
Ma-lig-ni-da-de.
Do diagnóstico até a cirurgia, acreditei que a morte flertava comigo. Entrei num autêntico inverno. Os dias eram curtos para inventar modos de distração. As noites suficientemente longas para imaginar meu enterro.
Os amigos meneando a cabeça:
Coitada, morreu sem publicar o grande romance.
Mãe, pai e irmãos chorando:
A família nunca a esquecerá.
Sob as horas que choviam presságios acinzentados, meus ombros curvavam. Sentia-me pesada como um caminhão-cegonha. Com o frio na alma, eu trinchava meu ânimo.
Ao voltar da anestesia, o primeiro sinal de sobrevivência foi a cara do médico. Pareceu-me imensa.
Sua voz encorajadora:
Tiramos tudo.
E agora, doutor?
O material foi para a biópsia.
Então não acabou?
Precisamos aguardar o resultado. Um passo depois do outro.
Os 7 dias que separaram a intervenção cirúrgica do veredito do laboratório foram de outono. As folhas caiam diante do meu futuro seco. Nem mesmo a espetacularidade dos entardeceres suavizava a espera. Eu não conseguia trabalhar direito.
Refletia:
Se for um câncer muito maligno será como encarar uma leoa numa savana africana.
Mas uma cotovia assobiava:
Lutarás, vencerás.
O doutor ao telefone:
O tumor estava circunscrito.
Ou seja?
O mal está fechado nele mesmo.
Foi um verão. Calores, odores sensuais. Minha alegria soltou-se. A vida novamente. Preparei uma festa com som nas caixas e cervejas na geladeira. Chamei os amigos e os amigos dos amigos. Havia o que comemorar. Praias de euforia.
Lembrei de uma frase adorável:
Dá trabalho morrer.
Nos 5 anos seguintes, fiz o controle. Exame da bexiga, um beliscão e novas biópsias. Uma tarde, no consultório, o doutor deu alta. Não saí veraneando. Eu estava diferente: havia experimentado a possibilidade de uma doença grave e a obviedade da morte.
Foi então que compreendi a dimensão da primavera. Tempo de renascimento, quando flores, depois de longa viagem, voltam para os troncos e galhos. Quando as cores, depois da minguada, retornam às coisas. Eu, também, estava voltando de uma estiagem.
Passados mais de 15 anos, sempre que a primavera se aproxima sinto a grata sensação de entrar em uma estação especial na sua delicadeza. Penso o quanto a primavera – sem o alarido do verão, sem o rigor do inverno, nem o charme do outono – é sábia. Ela é uma renda feita à mão.
Ou um convite para saborear hai-kais, como este, da Alice Ruiz:
“Primavera
até a cadeira
olha pela janela”.
Brinde: Primavera do Tim Maia
Leia outras no Conta-me a minha vida

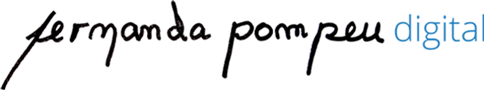
A primavera, se faz presente!
E dá um presente.
Beijo, querido Joakim.
Uma crônica carregada de poética, ritmo musical, trabalho de poeta. Uma das mais lindas que já li (e olha que eu leio crônica, poema, conto e romance todos os dias).
Un beso grande.
Nossa, Encarnação, fiquei toda cheia de mim com o seu comentário. Beijo grande.
Uma crônica poética para primavera! Bela!
Valquiria, bom você por aqui. Beijo,
Bela como a primavera!
Obrigada pela leitura, Thelma.
Linda crônica Fernanda! Cinco anos atrás passei por experiência parecida, no meu caso estava realmente doente. O céu escureceu! Nada mais tinha cor, passei a ver a vida em preto e branco! Veio a cirurgia, veio o tempo e finalmente veio a cura. A luz acendeu de novo e vi todas as cores do mundo novamente. Mas estava transformada, eu era outra pessoa e a vida nunca mais seria a mesma. Cada minuto hoje tem imenso valor. Parabéns pela crônica, uma visão poética de um momento difícil e transformador.
Ivana, leitora querida, obrigada!