 Imagem: Régine Ferrandis
Imagem: Régine Ferrandis Mal sabíamos que a juventude estava terminando no momento em que a kombi – transportando colchão, colcha de retalhos, duas mochilas cheias, frigideira e cacarecos – dobrou a esquina no bairro da Previdência, pertinho da USP. O veículo sumiu das nossas vistas e Dora e Vlamir das nossas vidas.
Certamente éramos muito novos para compreender o travo das palavras nunca mais. Seriam precisos longos, bons, ruins, surpreendentes, tediosos, intensos, vazios, coloridos, desbotados, apaixonantes, cansativos, excitantes, esperados, desesperados anos, para nos recordarmos daquela kombi partindo de São Paulo em direção à portuária Santos.
Vlamir e Dora foram os primeiros a deixar a casa. Depois, um a um, abandonamos a doce república dos anos universitários. A última a apagar a luz foi a Ana. Ela resistiu o mais que pôde. Dizia que deixar a casa era despertar de um sonho bom.
Éramos jovens, portanto vorazes para garfar, mastigar e engolir experiências e novidades. Para nós, um mês tinha a intensidade de um ano. Talvez, secretamente, já soubéssemos que sendo a vida uma semana, a juventude é um dia.
Também queríamos conhecer, tocar, amar a todos e todas que déssemos conta. Ansiávamos por repartir corpo e intelecto. A confraternização incluía indistintamente a sala de aula, a cama, o centro acadêmico. Vendo pelo espelhinho retrovisor fomos sortudos. Iniciamos o sexo com a oferta dos contraceptivos e antes da aparição do HIV/Aids.
A casa no bairro da Previdência caía aos pedaços. Continha tudo o que uma boa casa não deve ter: umidade nas paredes, mínimas tomadas, tanque de lavar roupa a céu aberto, jardim desleixado e um único banheiro.
Imagine doze corpos, sem contar os das visitas, dividindo um chuveiro, uma privada, uma pia minúscula. Ninguém se queixava. Como éramos muitos para três quartos, a solução foi criar divisórias de madeira compensada – aglomerado ordinário e barato.
Elas multiplicaram os cômodos. Como não chegavam até o teto, ouvíamos tudo o que se falava. Também acompanhávamos os suspiros dos apaixonados e o lamento dos amores rejeitados. Entre nós não havia segredos. Mentira.
Mas naquela época achávamos que era verdade. Tínhamos vinte e pouco anos e toda empáfia do mundo. Na nossa opinião, os inseridos no sistema – trabalhadores com carteira assinada, casados de papel passado, maiores de 30 anos, estudantes apolíticos, religiosos – sofriam de hipocrisia.
Na nossa visão, nossos pais cinquentões haviam fracassado em seus sonhos. Os anos tiveram que queimar calendários para compreendermos que a maioria dos nossos sonhos também seguiriam sendo sonhos.
Escolarizados, alimentados, despreocupados tínhamos a autoestima nos píncaros e a beleza em cada poro. Nossos olhos brilhavam como bolinhas de cristal sob o sol. Nossa geração foi bem diferente da dos nossos futuros filhos: ninguém postulava estagiar em empresas, festejar o mercado, competir como loucos, acumular capital. Queríamos cair na estrada com mochila nas costas, trocados no bolso e sandálias nos pés.
Memorável foi a viagem feita, por alguns de nós, ao Lago Titicaca na Bolívia. A saída foi da suntuosa e britânica Estação da Luz. Era uma época em que trens de passageiro ainda não estavam ameaçados de extinção. Depois, seriam aniquilados. Na estação de Bauru, trocamos de composição e começou o onírico.
Atravessamos o pantanal mato-grossense com direito a garças, emas, pôr-do-sol, pontes sobre rios magnânimos. A natureza derramava suas plumas, lantejoulas, confetes, lança-perfumes. Um carnaval verde.
Passados um dia, uma noite, mais um dia chegamos à escaldante Corumbá. Fomos dormir mal na pousada de quinta. Beliches enfileirados, lençóis de poliéster, um ventilador de teto com efeito meramente psicológico. O calor era tamanho que a Dora na falta, em desespero epidérmico, entornou um latinha de coca-cola no corpo.
Na manhã seguinte, novinhos em folha, atravessamos a pé a fronteira. Em Puerto Quijaro embarcamos no mítico trem da morte. Cada geração tem seu menu de mitos, lendas, ícones, ídolos. Andar no trem da morte funcionava como uma iniciação. Algo que dividia os que tinham pegado este trem dos que ainda não tinham.
Ele nos levou a Santa Cruz de La Sierra. Daí, mais uma vez, trocamos de composição e nos derramamos pelas ladeiras de La Paz. Para a maioria de nós, os picos nevados da capital da Bolívia eram show. Depois viajamos de caminhonete até o Lago Titicaca.
Situado a 3800 metros acima do mar, o Titicaca ostenta a primazia de ser o lago navegável mais alto do mundo. Com azul profundo, seus mais de oitocentos quilômetros quadrados abrigam ilhas concorridas. Entre elas, as famosas Lua e Sol.
Dono de um azul profundo, o Titicaca era café da manhã, almoço e janta para mochileiros dos anos 1970/80. Aliada a todos esses atrativos havia a facilidade financeira. O turismo pelas veias abertas da América Latina era muito barato.
Na boliviana Copacabana, subimos a turística Via Crucis, com suas 14 estações. Ao chegar no monte Calvário fomos abençoados por uma vista lisérgica do lago com sua cara de enigma, decifra-me ou te afogo.
Foi nesta subida, lá pela oitava estação, que Henrique rompeu o namoro com a Ana. Estou saindo com a Mercedes. Aconteceu. Ana gaguejou: Mercedes, aquela nariguda da História? (silêncio) E nós, Henrique? (silêncio).
Ao voltarmos da Bolívia ficamos muito abalados com a separação de Henrique e Ana. Eles, um pouquinho mais velhos do que o resto, foram os fundadores da doce república. A casa estava alugada no nome da mãe do Henrique e o fiador era o pai da Ana. Logo deixariam a casa. Cada um para o seu lado, cada um para suas vidas.
Águas que seguem, tentamos transformar o vivido na viagem em expressão palatável para os outros. Nos pusemos a escrever. Alguns com talento. Outros, com força de vontade. Valmir compunha canções. Ele escreveu letras maravilhosas com cheiro dos Andes.
A república da Previdência era de estudantes de jornalismo, cinema, teatro e artes plásticas. Eu e Jericó – o único rapaz negro da casa – oferecíamos nossos textos em redações de grandes publicações. Ninguém aceitava, mas não desistíamos.
O que nos movia era a fantasia. Aspirávamos ser repórteres como tinham sido os da Revista Realidade. Mas pensávamos que bastaria mostrar nossas laudas de texto para que os editores de jornais e revistas comprovassem nosso incomensurável talento.
Tempo era o que tínhamos para dar, emprestar, vender. A vida sustentava-se em promessa eterna. O sucesso seria nosso por direito. Os velhos profissionais que se recolhessem em suas casas de praia ou de campo. Desistissem da mesmice de seus trabalhos e cedessem seus espaços para o novo. Para nós.
A velhice estava tão distante quanto a Terra de Júpiter. Não adoeceríamos, não morreríamos. Éramos deusas e deuses pelo simples e irrefutável fato de sermos jovens. Mas a realidade não nos poupou. Como não havia poupado nossos pais, avós, bisavós. Como, muito mais tarde, não pouparia nossos filhos.
O sabor da maturidade veio em forma de violência política. Na primavera de 1977, desafiando os milicos aparelhados com brucutus e autoritarismo, o movimento estudantil realizou na PUC paulistana, um encontro para reorganizar a União Nacional de Estudantes (UNE), posta na ilegalidade pela ditadura militar.
Centenas de policiais – civis e militares – invadiram o campus da universidade. Distribuíram cacetadas, atiraram bombas de gás, empurraram, feriram, ameaçaram. Algumas estudantes tiveram queimaduras graves. Mais de 700 alunos, principalmente os da USP, foram presos.
Depois de uma concentração no estacionamento em frente a PUC, depois do coronel chefe da invasão fazer uma preleção fascista, fomos embarcados em ônibus, fretados pela polícia, com destino ao Batalhão na avenida Tiradentes. Estávamos em cana.
Muitos anos depois, Ana escreveria um livro, no qual uma das passagens narra esta noite: Fomos levados em fila indiana, dentro de um corredor polonês, onde os policiais batiam em um sim, outro não. Numa espécie de bem-me-quer / mal-me-quer.
A experiência direta com a repressão policial mexeu com todos. De forma sutil marcou uma linha imaginária entre o antes e o agora. A alegre sem-vergonhice da casa acabou e, igualzinho a um castelo de cartas, sob efeito de um sopro forte, nossas paredes de madeira compensada foram ao chão.
Sem riso e sem drama, cada um foi pegando sua mochila, calçando a sandália de couro. Até que Ana apagou a última luz. Ainda por um bom tempo, apesar de separados, nossos olhos seguiriam brilhando como bolinhas de cristal sob o sol.

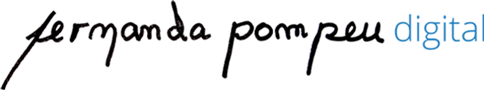
Isso está bom DEMAIS!
Maria Cristina, obrigada. Abraço.
Que texto lindo, Fernanda Pompeu!
Você é escritora refinadíssima.
Vai que a bola é sua!
Muita transpiração pra você.
Beijos
Bety, fico feliz com o seu comentário. Obrigada 1000 vezes pelo refinadíssima. E vamos transpirando. Beijo.
Eu me emocionei, até chorei lendo sua crônica. São tantas histórias! Não vivi em república mas, convivi com amigos que moravam. Foram tantos encontros e festas. Lembro também dá tão falada viagem, com o trem da morte.Eramos jovens!!!
Obrigada Fernanda! Um beijo
Regina,época dourada a da juventude. Eu quem agradeço muito a sua leitura! Beijo de coração.