 Foto: Roberto Stuckert Filho
Foto: Roberto Stuckert Filho Nascida em 1953, a gaúcha de Porto Alegre Luiza Helena de Bairros – que nos deixou em julho de 2016 – adotou Salvador para viver e trabalhar. Nessa cidade – na cafeteria do Ibis Hotel, na rua Fonte do Boi, no bairro Rio Vermelho – eu tive o privilégio de entrevistá-la para uma publicação coordenada pela física e feminista Vera Soares. Aconteceu no ano da graça de 2006. Por ocasião dessa entrevista, Luiza era coordenadora do Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI). Mais tarde, de 2011 a 2014, ela seria ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) no governo Dilma Rousself.
Filha de uma dona de casa e de um militar, Luiza teve a educação como o grande objetivo de sua vida. Tudo o que família pudesse fazer para investir na minha educação e na do meu irmão, fazia. Aluna de escola pública, começou a observar o racismo à brasileira: Éramos um a dois alunos negros por classe. Eu tinha muitas amiguinhas brancas, mas nos finais de semana tínhamos vidas separadas. Na Porto Alegre da época, havia uma interdição tácita para entrada de pessoas negras em vários ambientes.
A consciência da discriminação racial foi aguçada na universidade, onde graduou-se em Administração de Empresas e Administração Pública. O racismo se torna mais explícito à medida que as pessoas negras entram em um espaço, efetivamente, de maioria branca. Caso das universidades. Foi na Bahia que ela encontrou o Movimento Negro Unificado (MNU) e a sociologia. O Negro na Força de Trabalho na Bahia, entre os anos 1950 -1980 foi a sua dissertação de mestrado com foco na discriminação racial no mercado de trabalho, indicando que quanto maior a ascensão dos negros mais acirrado é o racismo. Leia e confira:
Muita gente afirma que o preconceito do brasileiro é contra o pobre, aquele que não tem dinheiro para consumir. Por esse raciocínio, se o negro for um consumidor, o preconceito desaparece.
Está aí um dos piores nós do racismo à brasileira. A suposição de que a discriminação é de caráter social. No meu modo de ver, a prevalência da pobreza na população negra é um dos efeitos do racismo. Não fosse assim, a desproporção entre brancos e negros pobres só poderia ser compreendida se fosse verdadeira a tese racista de que os negros são menos inteligentes, mais preguiçosos do que os brancos. O argumento que atribui a discriminação do negro à pobreza está dizendo o seguinte: A população negra não foi capaz de responder aos estímulos que a sociedade, ao longo dos séculos, ofereceu às pessoas pobres. Conclusão: se os estímulos se distribuíram igualitariamente, a única justificativa para a pobreza dos negros é a sua inferioridade intelectual e moral. É uma armadilha essa linha de pensamento e é extremamente comum. Quem faz este raciocínio o faz com a tranquilidade que a ignorância garante.
As pessoas fecham os olhos para o racismo?
Fundamentalmente as pessoas continuam separando as desigualdades raciais do racismo. Um dos resultados dessa separação é muito concreto: um formulador de política pública lê uma informação acerca da desigualdade racial e continua formulando a política pública do mesmo jeitinho que fazia antes de ter a informação. Para essas pessoas, das duas uma, ou o racismo simplesmente não existe ou é ele visto como um acidente na trajetória de uma pessoa negra. Outra falácia é acreditar que as pessoas negras com rendas mais elevadas não são discriminadas. Informações e estatísticas demonstram que mesmo os negros de classe média são discriminados.
Explique melhor.
Algumas evidências: os estudos de mortalidade infantil estabelecem relação entre morte de crianças e escolaridade da mãe. Ou seja, quanto mais baixa a escolaridade da mãe, mais alta a mortalidade infantil. Agora, quando esses dados são desagregados por raça e escolaridade, a mortalidade de crianças negras continua mais alta, mesmo quando se trata de mães com escolaridade alta. Também, na escola, quando nos deparamos com a defasagem idade/série, existe uma maior defasagem entre crianças negras independentemente da renda de suas famílias. Tais dados mostram que o efeito da renda nas condições de vida da população negra, em comparação com a população branca, acaba sendo amortecido pela existência do racismo. Tenho notícia de uma pesquisa recente feita em Salvador. O objetivo era medir a incidência de hipertensão em crianças brancas e negras em escolas privadas. Resultado: as crianças negras tendem a ter a pressão mais alta do que as brancas. Ou seja, todas estão submetidas ao mesmo estilo de vida. Fica a pergunta: o estresse sofrido por um uma criança negra, em uma escola particular de maioria branca, influencia nas ocorrências de hipertensão? Outro aspecto do racismo diz respeito às diferenças salariais entre negros e brancos em posições que exigem nível universitário. A diferença é maior, sempre a favor do branco, do que entre negros e brancos em ocupações nas quais o requisito de escolaridade é mais baixo. Na real, se formos pensar na forma como operam os mecanismos do racismo, veremos que seus efeitos tendem a ser mais explícitos entre as pessoas negras de renda mais alta.
Elas estão entrando em um espaço não determinado para elas?
Exatamente. Quanto mais desvalorizadas as ocupações, menores as diferenças salariais. Por isso, muita gente acha que o racismo brasileiro é mito. Aliás, o racismo no Brasil tem o poder de fazer com que as pessoas brancas se sintam confortáveis em viver em uma sociedade que, supostamente, não exige delas nenhum tipo de identidade racial. Eis o lance.
Afinal, o que é o racismo?
Eu vejo o racismo como a ideologia em estado puro. É o que informa e o que possibilita desenvolver o preconceito e praticar a discriminação. É o que sustenta. O racismo engloba todas as relações, passa por dentro delas. É uma ideologia baseada na desumanização do outro, no extermínio do outro. O extermínio do outro só é possível porque há grupos que se supõem superiores. Não existe racismo de baixo para cima, pois ele sempre pressupõe a ideia de superioridade. Portanto, o Brasil é um país com um racismo bem desenvolvido. Tão desenvolvido que, durante muito tempo, sua existência pôde ser negada criando uma espécie de racismo invisível. A ponto de acusarem os que falam a palavra racismo de promotores de sua existência. Ou seja: deixa tudo como está, pois assim estamos todos confortáveis.
Não discutir para mantê-lo invisível?
Uma das marcas da invisibilidade acontece quando comparamos o processo brasileiro de organização política das pessoas negras com o de outros países. O que se constata? Aqui não se constituíram aliados do movimento negro. Organizações brancas, partidos políticos nunca foram aliados. Pois existe, por parte deles, a crença de que o racismo é uma invenção. Algo importado dos EUA. Quando muito se dizia: Existe racismo é no Rio Grande do Sul. Eu enfrentei isso particularmente. Por conta do meu sotaque gaúcho, as pessoas, logo que vim morar em Salvador, tentavam me calar alegando que eu trazia um problema do Rio Grande do Sul que não existia na Bahia.
Usar a palavra raça tem sido muito criticado.
A questão do uso ou não da categoria raça tem sido problematizado. Alguns usam entre aspas. No entanto, acho que existe um patamar de consenso construído: falar de racismo sem raça seria muito difícil, pois quem cria a raça é o racismo. Por isso, a palavra raça, embora seja contestada na biologia, está sendo usada como uma construção social. Assim é preciso lançar mão do termo raça para enfrentar o racismo.
O que motivou você a participar do Movimento Negro Unificado – MNU?
Eu sempre fui uma pessoa de grupos. Desde que me lembro por gente, sempre pensei vamos nos reunir para fazer, para construir juntos. Eu participei de grêmio estudantil, diretório acadêmico. Fazer política é uma constante em minha vida. Então, quando o MNU apareceu na minha frente, eu pensei: É essa a minha turma. Tratava-se também de um movimento muito democrático, abrigava quem quisesse participar. Agora, mesmo antes da militância, sempre fui uma pessoa antenada. Lia muito a respeito da organização dos negros. Lia o que se produzia no Rio de Janeiro e em São Paulo. Um pouco da literatura norte-americana também. Intuía que ser negro tinha um grande potencial para a organização política. Fazendo um balanço, acho que uma das grandes contribuições do MNU foi tornar o racismo explícito. Resolvemos mostrar a existência do racismo levantando denúncias de casos de discriminação.
Como vocês fizeram?
Passamos 10 anos arrolando denúncias de racismo. Reunimos casos de negros discriminados no trabalho, no ônibus, nos bancos, hospitais etc. A ideia era: se conseguirmos informações que comprovem as discriminações raciais não haverá argumentos contra isso. Também, a Universidade, lá pela metade dos anos 1980, começou a explorar mais linhas de pesquisa sobre os negros.
Essas informações fizeram diferença?
É claro que sim. Hoje estamos vivendo uma segunda onda na produção de dados das desigualdades raciais. Uma onda com grau de visibilidade muito maior. A primeira onda, ocorrida nos anos 1980, foi provocada pela nossa pressão para a volta do quesito Cor no Censo de 1980. Pois a partir dos anos 1990, o governo começou a assumir o papel principal na produção de informações sobre as desigualdades raciais. Ora, quando as instituições governamentais entraram em campo, a questão racial ganhou em dimensão. Quando o assunto saiu dos âmbito mais exclusivo do movimento negro para a esfera do governo ganhou maior visibilidade.
Como você vê o papel do movimento negro e do movimento de mulheres negras no desenho das políticas de combate a discriminações?
Especificamente em relação aos negros, os governantes não podem mais se dar ao luxo de desconsiderar o conhecimento que o movimento negro – misto e de mulheres negras – criou em função da necessidade de tentar produzir respostas para a comunidade negra. Respostas, muitas vezes, que seriam da competência do Estado. Mas que, por inércia, ele não criou. No caso dos negros, e também das mulheres, o Estado só tem uma fonte para beber: as experiências de combate ao racismo e ao sexismo forjadas nos movimentos sociais. Não tem outro poço para tirar água.
Quer dizer o Estado precisa da informação dos movimentos?
Precisa. Pois parte da dificuldade do Estado é incorporar um conhecimento que, historicamente, tem sido deslegitimado nas mais diversas formas. Isso é mais flagrante no caso do movimento negro. Não chegamos a ter, como no movimento feminista, uma legitimação pelo pensamento acadêmico daquilo que fazíamos e inventávamos. Isso não chegou a acontecer totalmente.
O que é racismo institucional? É o praticado pelas instituições? É o racismo institucionalizado?
Racismo institucional tem a ver com a capacidade que as instituições têm de produzir desvantagens para determinados grupos. Nós chegamos a essa definição por meio do intercâmbio com a Comissão de Igualdade Racial do Reino Unido. Lá, eles buscaram operar com o racismo trazendo a discussão para dentro do Estado. Eles partiram da constatação do comportamento inadequado da polícia em relação aos negros para, a partir disso, levar a questão do racismo para o Estado como um todo. O contato com a Comissão de Igualdade Racial do Reino Unido foi fundamental para percebermos, no Brasil, a possibilidade de trabalhar com o conceito de racismo que não fosse tão geral e nem tão particular. Ao trabalhar com o racismo institucional saímos da generalidade. Escapamos da noção de racismo como um fenômeno que seria tão generalizado na sociedade, a ponto de provocar o sentimento de que ninguém pode fazer nada para combatê-lo, porque ninguém é diretamente responsável pela sua existência. Também escapamos de uma noção mais particular de racismo, aquela que vê o indivíduo como o único ou principal agente do racismo e, portanto, com a possibilidade de agir de acordo com convicções que lhe seriam próprias. A partir disso partimos para uma zona intermediária, na qual a instituição pode ser vista como um ente que – por preconceito, ignorância, ou falta de atenção com as diversidades e as desigualdades – acaba por produzir desvantagens sociais para determinados grupos raciais.
Você pode dar exemplos de racismo institucional?
São muitos. Por exemplo, dentro da população negra ocorre um processo de mortalidade escolar, ou seja, não são apenas as crianças que evadem, são as que saem da escola e nunca mais voltarão. Ora, quem produz a mortalidade escolar é a instituição escola. Para resolver isso, a escola precisa rever seus mecanismos de discriminação e se perceber como produtora dessas situações. Outro caso extremo é o racismo praticado pelas instituições policiais que comprovadamente veem os negros como alvos suspeitos. Daí é possível confrontar o senso comum que diz: A desigualdade racial está aí, mas não tem nada a ver com o racismo, respondendo: A desigualdade racial está aí, porque as instituições a produzem quando praticam o racismo.
Isso quer dizer que os serviços prestados pelas instituições do Estado beneficiam alguns grupos raciais e produzem desvantagens para outros?
Exatamente. O racismo institucional tem a ver com a forma com que a instituição se estrutura, como ela é composta. Aí vamos perceber que nos lugares de decisão a maioria das pessoas é branca. Os programas e os projetos executados, no seu conteúdo, não levam em conta as diferentes necessidades das pessoas que demandam esses programas, esses projetos. Além disto, também percebemos o racismo pela total ausência de normas, de regulamentos que, de algum modo, previnam ou desencorajem a prática de atos discriminatórios. Se as diferenças entre os grupos raciais não estão sendo consideradas, a instituição está praticando o racismo. Formalmente, a instituição apregoa: Não se estabelece diferença entre as pessoas. Mas, muitas vezes, no contato do servidor com quem demanda o serviço, o que acaba vigorando são as percepções individuais acerca das diferenças entre negros e brancos. Na verdade, as dimensões de racismo institucional estão interligadas: ocorre entre os servidores, na relação dos servidores com o público, na ação final das instituições.
O combate ao racismo institucional tem várias frentes?
Dentro do Programa de Combate ao Racismo Institucional, a abordagem multifacetada nos permitiu verificar o seguinte: se não se produzir uma modificação na cultura institucional não vamos conseguir as tão sonhadas políticas públicas de promoção da igualdade racial. É necessário dar concretude para as instituições, pois elas são abstratas, apenas existem nos regulamentos. Temos que torná-las mais objetivas e palpáveis para quem está lá dentro. Temos que mostrar que existe uma influência recíproca entre a percepção dos sujeitos que fazem parte da instituição e aquilo que a instituição diz que quer fazer.
Por exemplo?
O preenchimento do quesito Cor. Ele existe em muitos formulários de órgãos públicos. Isto sugere que a instituição está dizendo que é importante saber a cor da pessoa, assim como o estado civil, a ocupação, a escolaridade, o sexo, entre outros. Ou seja, está indicando que a cor e as outras dimensões dizem algo sobre a pessoa que está sendo atendida, que interessa à instituição conhecer. Mas o que costuma ocorrer? Quem está atendendo, no balcão, pergunta tudo e pula o quesito cor. Mais uma vez é a percepção do indivíduo, do funcionário, prevalecendo sobre uma norma institucional. A percepção de que o quesito cor é irrelevante, ou que perguntar a cor da pessoa é ofensivo. Conclusão: o quesito cor não será preenchido. Informação perdida.
Antes de mais nada é necessário diagnosticar.
Nossa primeira investida é: Vamos diagnosticar este lugar no qual trabalhamos. Vamos checar onde estão os nós que precisam ser desatados para que possamos criar, aqui dentro, um ambiente favorável à formulação e implementação de políticas públicas que reconheçam as diferenças entre homens e mulheres e entre negros e brancos. Com o Programa de Combate ao Racismo Institucional – na Bahia e em Pernambuco – buscamos desvendar como as noções racistas influenciam nas práticas institucionais. E como as práticas institucionais influenciam nas relações internas e com o público. Com isso, temos conseguido avanços importantes.
Como vocês fazem na prática?
Por meio de oficinas, criamos condições de reflexão e discussão. As pessoas têm a possibilidade de se rever, dentro das instituições, com um outro olhar. E o mais importante: elas próprias propõem meios, formas, um plano de trabalho para superar essas contradições. Não pode ser um pacote. As pessoas têm que estar envolvidas no debate. Precisam participar. No primeiro momento, sempre há resistência. É um momento de negação absoluta. As pessoas dizem: Eu sei o que estou fazendo, já trabalho nisso há muito tempo. Outro aspecto importante é que não interessa se a instituição desconhece seu comportamento racista. O racismo não deixa de existir por causa desta inconsciência, pois tem que ser medido pelo efeito que provoca no outro. Se o efeito existe, o racismo está lá.
Então vocês trabalham com o subjetivo das pessoas e a imagem das instituições?
Estamos trabalhando entre a dimensão macro e a dimensão subjetiva para encontrar uma zona na qual seja possível agir. É um trabalho fascinante. Por outro lado, é um trabalho que causa estranhamento dentro das instituições. Elas não estão, em absoluto, habituadas a fazer sobre si próprias um tipo de reflexão que coloca em discussão não apenas a sua cultura, o seu modo de pensar e de operar, mas que põe em xeque processos e resultados de sua ação.
Por muito tempo, foram para debaixo do tapete as diferenças entre mulheres negras e brancas. O mote era: somos todas iguais, o machismo é um inimigo comum. Então mulheres do movimento negro começaram a mostrar que não era bem assim, que havia uma relação hierárquica a favor das brancas e contra as negras. A pergunta é: quais foram os avanços nas relações entre negras e brancas organizadas?
A relação entre ativistas brancas e negras mudou muito. A mudança foi provocada pela dificuldade de um diálogo mais igualitário entre negras e brancas dentro do movimento de mulheres. Isso só se tornou possível com a criação do movimento de mulheres negras. Aí na medida em que se constitui uma nova força, o outro lado acaba sendo obrigado a incorporar os questionamentos e sente a necessidade de criar uma visão mais diversa. Creio que houve por parte das mulheres negras tranquilidade para absorver o que o feminismo criou como teoria, como possibilidade de análise das nossas diferentes situações etc. As mudanças de perspectivas beneficiaram ambos os lados.
Como?
Por exemplo, sem o movimento das mulheres negras, as ideias do movimento feminista majoritariamente branco não teriam conseguido a penetração popular que tem hoje. Nas Conferências e Encontros de Mulheres a presença das negras é esmagadora. Então, o ganho para o feminismo foi incrível: as ideias de autonomia, empoderamento, entre outras, se popularizaram. Crédito para as mulheres negras que tornaram tudo isso moeda corrente para uma parcela significativa da população. Chegará um momento que as mulheres negras organizadas serão chamadas apenas de mulheres organizadas. A palavra negra não será necessária, porque seremos a maioria dentro do feminismo.
Efetivamente o que pode ser feito para melhorar as condições de oportunidades para as mulheres negras?
Não há como melhorar a vida das mulheres negras sem melhorar a vida da população negra em geral. As pessoas negras fazem parte de uma comunidade de destino. É óbvio que, na prática, ao pensar a melhoria para o conjunto da comunidade, precisa ser visto que condições devem ser criadas para que as mulheres negras se insiram nessas melhorias de foram efetiva. Não estou dizendo que gênero não faz diferença entre homem preto e mulher preta. Mas, no geral, a situação de cada um tem que ser pensada sem perder de vista a situação do conjunto. O que melhor evidencia essa visão são as pautas das organizações de mulheres negras. Vamos encontrar o trabalho específico com as mulheres, ao lado da atuação política, contra o extermínio dos jovens negros, preocupações com a questão da educação não racista. Vamos encontrar ações de apoio jurídico nos casos de discriminação racial, dirigidos tanto às mulheres quanto aos homens. Mas em todo o trabalho com a comunidade, há um esforço evidente para que as mulheres negras sejam reconhecidas e empoderadas no seu papel político e social. A dimensão de gênero é fundamentalmente o que diferencia a organização de mulheres negras das organizações negras mistas. Nas organizações mistas, o empoderamento das mulheres não está em absoluto colocado.
Voltamos à questão de gênero?
Eu tenho a impressão que para as feministas brancas a preocupação com a forma como o sexismo atinge os homens é menos pronunciada do que para as mulheres negras. Isto se manifestou na tensão, tempos atrás, entre os dois movimentos. As mulheres negras ouviam muito: Vocês não são feministas. E talvez não fôssemos mesmo naqueles termos colocados. Sem dúvida, o mundo é afetado pelo patriarcado, mas não só por ele. No feminismo, os homens só aparecem pela via do questionamento ao patriarcado. Até, por conta disso, eles acabam sendo o alvo mais perceptível. Do ponto de vista das mulheres negras, acho que isso não é possível totalmente.
A mulher negra é poderosa no privado e desvalorizada na esfera pública?
São as complicações do racismo. Para a população negra, o racismo cria a dicotomia do poder da mulher negra para dentro da comunidade e a ausência de poder dessa mesma mulher para fora. Aí, o lugar de poder é institucional, institucionalizado. Sempre chamo atenção para o texto da Lélia González (1935-1994) Racismo e sexismo na cultura brasileira – de 1980. Lélia sugere, mais ou menos, o seguinte: O poder das mulheres negras para fora da comunidade tem sido muito mal avaliado, até mesmo pelo movimento negro. Ela recupera a figura da Mãe Preta, afirmando que ela possibilitou o enegrecimento da cultura brasileira, e semeou os modos de falar do Brasil etc. Quando dizemos que para fora a mulher negra não tem poder, talvez estejamos partindo de uma noção de poder que as instituições brasileiras definem: espaços ocupados pelos homens brancos. Agora, existem outras dimensões de poder que têm que ser mais valorizadas para que o poder institucional também possa se tornar uma possibilidade para as mulheres negras. Se uma pessoa se percebe o tempo todo como alguém que não pode absolutamente nada, como ela vai criar expectativas para ocupar espaços de poder formal? Não tem como. Ainda há um longo caminho a ser percorrido pelas mulheres negras e pela comunidade negra em relação à dicotomia do poder da mulher negra. Isso é bastante forte na Bahia, por conta da presença das mães de santo. As ialorixás têm o poder absolutamente reconhecido por todos, homens e mulheres, de qualquer idade, negros e até alguns brancos. No entanto, muitas vezes, é um poder confinado a uma função e a um espaço. Por exemplo, um homem negro pode reconhecer o poder e a força de uma ialorixá, mas desconhecer a importância e a força da sua companheira negra, da irmã e da filha.
Qual o papel da Academia na produção de conhecimento das questões raciais?
Na nossa sociedade, conhecimento que a Academia não legitima não tem poder. Daí, por um lado, a Academia cumpriu um papel muito relevante. Por outro lado, como costuma acontecer, há incertezas quanto ao reconhecimento desse conhecimento novo produzido acerca da experiência negra do Brasil. Ele é legitimado por uma parte da Academia, não por toda ela. Existem intelectuais negros que desempenham um papel importante, a partir de suas universidades ou de suas organizações políticas, de tentar promover novas ideias, novas maneiras de interpretar a política racial no Brasil e os processos que a determinam. Mas existe, também, uma resistência enorme para enfrentar o racismo, que vem de dentro da própria Academia, geralmente dos acadêmicos brancos. Tal resistência independe do fato de terem ou não estudado a questão racial. Estamos presenciando isso, agora, com a política das ações afirmativas nas universidades. O fato é que encontramos um número considerável de acadêmicos – muito respeitados pelo que produziram acerca da situação de pessoas negras no Brasil – contrários às cotas nas universidades. Ou seja, o conhecimento da realidade dos negros não implica, necessariamente, em concordar que o Estado intervenha para que a situação se modifique. Trocando em miúdos, é muito instável a nossa posição na chamada Academia. Não necessariamente um conhecimento sobre o que é o racismo, sobre os efeitos que ele produz, implica em um consenso acerca do que deva ser feito. Há uma disputa pela hegemonia do tratamento da questão racial. Mas a boa notícia é que está sendo quebrada a hegemonia branca, estabelecida historicamente, acerca do que é o racismo e quais são as formas que devem ser adotadas para combatê-lo. Isso sempre foi definido pelos brancos. Hoje, o jogo está virando. A disputa pela hegemonia é explicita nas polarizações contra e a favor das ações afirmativas. Quem vencerá essa disputa só o tempo dirá.

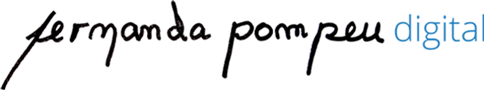
Deixe um comentário